Piquenique via satélite: sobre inocência, realities e fugas da infância
- João Matheus Marques
- há 3 horas
- 14 min de leitura
“Us Too – the magazine – is more obscene than Sade”
— Roland Barthes
I
Talvez o que escrevo aqui indique o contrário, mas fui uma criança relativamente otimista. Se mais ou menos que outras, não saberia dizer. “Otimismo” parece deslocado, mas esse modo particular de estar não nublou, contudo, um senso de aproximação curiosa para com os problemas gerais; uma necessidade de apreendê-los, simulá-los e testá-los a partir da veracidade que assumiam no mundo dos adultos. Não consigo mensurar o momento oportuno entre a incubadora e a creche; um bem-sucedido coup d’État, para compreender esse tipo secreto de mal-estar da pequenez e dos sonhos de infância. Essa aspereza; a noção narrativa, distinta e precoce de que todas as coisas crescem para depois cair. Os aparatos, a Mímese, a percepção falha: a crença interiorizada de que a fábula termina na gaveta de remédios como há de haver um pote de ouro ao final do arco-íris. Ser criança significou captar códigos, entre uma e outra festa do chá; ser criança indicou uma aprendizagem a nível molecular das falhas.
Seria natural observar o momento da exposição em série ao American Way of Living ou aos acontecimentos de nosso tempo no cérebro das crianças, comparando-o com um trauma genérico, e ao mesmo tempo profundo, em uma espécie com apetite voraz pela tragédia. Pensemos nos anos 2000: o mundo das gravuras de serpentes e lobos dos contos infantis versus programas da madrugada; torres cercadas por vinhas e dragões dando lugar a outras duas torres atingidas por aviões; a moleira, ainda aberta, atravessada pela haste pontiaguda — se quisermos ir para o lado de Lasswell — dos anúncios da Polishop e da revista People como personagens de A Abadia de Northanger por romances góticos. Atraídos pela crise como aves para turbinas; como cavaleiros de Cervantes por moinhos e como adolescentes de contos cristãos para o acidente automobilístico fatal que preservará os ovos intactos no porta-malas e os olhos maternos marejados. Crescemos cercados por traumas e tecnologia, violência anunciada. Nossa configuração da infância foi remodelada a partir de novas e incompreensíveis cantigas.
A princípio, tudo parece cambiável: a inocência e sua parceira corrupta coexistindo diametralmente opostas em uma esteira entre a mamadeira, a recessão e um episódio de Real Housewives gravado em luz azul na memória, desconfortavelmente próximo de desenhos animados e do pique-esconde, mas à regalia de uma espera, de um crescer. Problemas de adulto interrompem a brincadeira quando é hora de entrar em casa às pressas para beber água, antes que o portão se feche e a rua esfrie; talvez tenham sempre estado presentes, e escrever hoje sobre infância seja uma diligência autobiográfica do outro. Dessas sobreposições, despertam-se futuramente sensações incômodas: terá nosso berço durado bastante? Teremos sido inocentes o bastante? Quão afetados fomos pelo nosso século? Culpem os pais, a mídia global ou um terceiro fator em suspenso. Se a “passividade” e o acesso no recebimento das informações é ou não central, não me cabe dizer. Pensemos antes na criança que fomos e no tempo em que estivemos. Lembremos do que queríamos ser.

O senso estético de uma criança é menos encorajado que sua habilidade para conseguir amarrar os sapatos, e afirmar isso não é exigir de pré-escolares que leiam Rancière. O cordão é cortado, e esperamos que a figura prematura venha ao mundo com sonhos maiores do que se divorciar e acabar nas escadas de um prédio público em Buenos Aires, assumindo os dilemas da vida privada com o ar beatífico. Talvez o que disseram sobre aveia e trilhos químicos, afinal, tenha certo valor deformado. Crie corvos e eles roubarão suas pílulas, imitarão seus modos. Todo menino e menina da minha geração sonhou sonhos pós-sonhos. Ser a Winona Ryder de Girl, Interrupted ao invés da de Mermaids. Ser adulto invés de adolescente. Fumar lápis apagados ou interpretar, com Barbies de Malibu, brigas conjugais, problemas financeiros e reuniões do A.A. Trancar a casa de bonecas quando é hora de assistir a televisão e mastigar verbetes de Nene Leakes e Kim Kardashian. Isto pode, é claro, perpassar somente minha experiência de infância com acesso precoce ao imaginário midiático do E!. Fingir brincar de Lego na sala de estar como uma tentativa de sorver cada linha das falas desinteressadas em Keeping Up With The Kardashians, cada inflexão posteriormente metamorfoseada em falas plásticas para bonecos de plástico. Mas pensemos sobre os sonhos.
A imagem quase pictórica do divórcio, do escândalo, das escadarias na Argentina e da fuga dos paparazzis — tão anacronicamente centrada no mesmo éthos político de uma Lewinsky ou de uma Onassis — , deriva do ensaio de Joan Didion para a Vogue — In Sable and Dark Glasses — em que a autora destrincha a própria infância e sua iconografia. Didion fala sobre uma espécie de adulto ideal que sua versão de cinco, seis ou sete anos imaginava entre os legumes e horários para dormir, com todas as falésias que uma vida pública supostamente exigiria: lettuce drinks, zibelina e cargos embotados. Aos oito, meus delírios de maioridade eram mediantes a um laudo similar, mesmo cerca de 70 anos depois da infância da autora e na última grande década dos realities e autoescolas. Sonhava com uma espécie de irreverência ou dilema que seria o suficiente para me inserir no mundo dos adultos. Com um impedimento necessário, valoroso ao ponto de, irrevogavelmente, me taxinomizar como gente grande. Talvez toda criança da minha geração — me permito aqui generalizar —, no fundo, desejasse compreender os mesmos modos do consumo, sem a noção de que nasceram na América errada para fracassar em chiffon; talvez toda criança desejasse, da mesma forma com que secretamente desejou o divórcio de seus pais e, com a mesma convicção indubitavelmente realista, o desaparecimento do dente sob o travesseiro, — junto de sua imediata e arbitrária substituição por uma moeda — uma espécie de resposta para o que devia se esperar do mundo. Hoje, não posso afirmar com clareza se obtivemos essa resposta.
II
“His grandpa loved an empire / His sister loved a thief / And Lindsay loved the ways of darkness / Beyond belief”
— Joni Mitchell, The Wolf That Lives In Lindsay
A chance de garantir um lugar ao sol no mundo injustificável dos adultos corresponderia, certamente, a um tipo de sacrifício à altura. Não quero ser determinista ou me centrar em um nível apriorístico de destino ao vício. A noção de que cassinos são incontornáveis na vivência humana ou de que martínis em iates são tão frequentes quanto idas à escola me vieram cedo: o mesmo nível de preocupação destinado a areia movediça e a mística dos cartões de crédito. A um porvir vertiginosamente próximo do abandono dos dentes de leite ou da segurança, e uma visita rápida ao closet em que remédios são guardados, sob tábuas e passos vagarosos, está uma chance de espiar por detrás das cortinas: observar a infelicidade como uma commodity. Quando converso com amigos de infância sobre o que queriam ser quando crescessem, “astronauta” ou “arqueólogo” não são as primeiras respostas, e os sonhos que sugerem são bem menos reluzentes.
De modo algum isso é classificar a curiosidade infantil como inerentemente masoquista ou realista além de um simples passo para mais perto de quem somos. Se o nascimento da humanidade é cravado na mesma tábua em que o nascimento da tragédia, é natural que adultos paguem a hipoteca e sejam, ao mesmo tempo, rasos e enigmáticos; que ajam e não ajam. Que sejam intérpretes da classe média, desinteressados, arquetípicos e devedores. É terrivelmente compreensível que uma princesa e a Disneylândia tornem-se menos mesmerizantes ou férteis para o vale mental da infância que acordar de sonecas em berços rebaixados e se deparar com pais em lágrimas, hipnotizados pelo anúncio da morte de Amy Winehouse e por sua retrospectiva via Crucis, como as crianças da minha geração acordaram. Falo aqui com as crianças de um tempo passado, que não entendiam o poder atrativo dos canais de compra e venda ou dos tabloides, mas sorviam os detalhes. Dívidas, perdas e ganhos: a memória coletiva do Sul Global e da especulação imobiliária. Admitir que nenhuma criança da América quis tanto ser Demi Moore quanto quis ser Lady Di podem ser aspas fortes, mas as luzes de uma première iluminam menos a eternidade que os faróis dentro do túnel.
Ser uma criança em novembro de 1963 significou enquadrar o mundo entre aqueles que podem ou não ser assassinados em conversíveis; vestidos rosa para sempre manchados na vitrine como suco de uva em conjuntinhos de boneca arruinados. Em 62, o mal estar geral com relação à morte de Marilyn Monroe modificou para sempre a química por trás do sonho dourado. No lado direito do cérebro daqueles que nasceram no início dos anos 2000 ou no fin de siécle das celebridades, as imagens reais de duas torres chamejantes, de um ou outro massacre, de antes e depois de rinoplastias e lipoaspirações — somadas a um medo desconhecido pelo Michael Jackson da MAD — parecem intrincadamente bordados. Avós estiradas em sofás, xícaras mornas ainda em mãos, enquanto o rádio ou a tevê anunciam a morte de uma modelo que tentava carreira na Itália ou que se operava tentando ser uma sósia da Barbie. Perseguições policiais servindo como fundo sonoro para o desenho do pôr do sol, abafando o deslize do giz sobre o papel. Conversas no recreio simulando cada sílaba do que foi ouvido no tom letárgico e alienígena da incompreensão.
Quando nossas mãos parecem grandes o bastante para passar do giz ao lápis, recalcamos os medos de infância ou, com certa vergonha, fingimos não lembrar; não dar ouvidos ao Homem do Saco ou à areia movediça, que deixa de ser uma preocupação real num centro urbano. Criminosos kamikazes fugidios não conseguem atravessar três estados e se esconderem debaixo de sua cama, e tiroteios de shopping não atingem o corredor de brinquedos em nossas mentes. Aquilo que entendíamos do mundo real torna-se um pastiche, um caricaturismo feito à caverna. Observamos a criança que fomos com estranhamento. A resposta óbvia é sempre a certa, e a razão vence, mas as perguntas soam deslocadas.
III
Carlos Saura parece capturar parte deste fenômeno — a obsessão infantil com o mórbido e a maneira como os símbolos são reapropriados na construção de uma verdade que se encaixe nos limites da experiência — em Cría Cuervos (1976), um coming of age enquadrado na ambivalência de crescer em meio a Espanha franquista. Outras obras, como Bem-Vindo à Casa De Bonecas (Todd Solondz, 1995), Bonjour Tristesse (Otto Preminger, 1958) e Mistérios da Carne (Gregg Araki, 2004), fluem em uma direção similar, mesmo que em modo e tessituras particulares entre infância e adolescência. O que aproxima cada uma dessas obras não está ligado a um suposto propósito de categorizar este ou aquele personagem como enfant terrible, ou de reconhecer o caráter obsedante do desconhecido e perigoso mundo adulto. O que parece, e o que permite a liberdade de conectá-los em algum nível, é um tipo de esfacelamento da fantasia; a mudança definitiva no sistema em que acreditam.
Imagine: uma luminosa e/ou sombria jornada com “boas intenções” ao mundo dos adultos encaminha o herói mirim a deparar-se com a) uma falha no sistema que conhece e em b) sua própria inabilidade de conviver entre o mundo dos vivos (a realidade de toque: Play-Doh, cereais, historinhas para dormir e passeios de verão) e o mundo dos mortos (a violenta força contrária: venenos impotentes, vizinhos sequestradores, acidentes e vans estacionadas no quintal). Suas imitações teatrais — dos hábitos da mãe, do pai ou de desconhecidos —, seus “planos perfeitos” ou a ação repulsiva de outrem conduz o “estado natural das coisas” (leia-se da infância) a um ponto irreversível. As certezas são desfeitas por uma revelação.
A pequena Ana acha que é capaz de decidir sobre os que vivem e os que morrem, e lustra sua arma-secreta com uma certeza feroz; em sua casa, as armas são um ponto de tensão e orgulho distorcido. Cécile, com suas aspirações de Cupido, quer que o verão e o imobilismo da Riviera durem para sempre, mas, enquanto observamos o filtro sépia que separa a infância do futuro cortado pela culpa, compreendemos cada vez mais que isso será impossível; a ilusão se rompe, e com ela, a cor.
Tanto em Mistérios da Carne quanto em Bem-Vindo à Casa de Bonecas, o mal esconde-se atrás das fachadas suburbanas e da rotina. No primeiro, a amnésia advinda do trauma, posteriormente “revertida” em uma condição de choque, é, por si, uma revelação digna da própria condição trágica. Sua construção resulta em um dilema também inerentemente representativo: um herói às avessas que quer, e paradoxalmente não quer, saber, e outro que quer, e não quer, contar. Alienígenas somam a esse cenário com o duplo sentido de abdução, que se sustenta até o ponto em que a verdade explode e o fantástico dá lugar ao horror. A protagonista de Solondz, em um momento de fúria, abandona sua irmã mais nova — uma pageant queen — à própria sorte. A ação, movida por uma Dawn que vemos ser desprezada durante todo o filme, resulta no posterior sequestro da mais nova, que é encontrada e depois transformada em uma sensação mirim. Solondz parece capturar a dicotomia da infância dos anos 90 — e ao mesmo tempo atemporal — junto aos horrores ocultos nas fachadas, mesmo antes do sequestro de JonBenét Ramsey, em 1996, ou da hiper-exposição infantil dos perfis nas redes sociais. O resultado do encontro da irmã da protagonista na trama, é, senão o contrário do que se espera, ao menos um feliz anticlímax. Planos falham, regras da infância parecem impróprias, e, se no “mundo real”, que desfez a primária conjuntura de regras, existe espaço para a “criancice”, é apenas a partir de sua destruição simbólica, da aceitação da irracional e mórbida realidade que nem a Disney — no caso da quase anti-heróina de Solondz — consegue camuflar. Não há uma grande redenção interna ou metamorfose moral nestes personagens, que não são simples arquétipos ou modelos de infância. Há, para mais que para menos, os sintomas e traços advindos dessa revelação trágica e tardia: o fim da infância.
IV
Muitos hão de ser, de igual modo, insinceros com relação à infância e à infâmia. Despejamos junto às favas e aos grãos de menor peso a intersubjetividade e neuroplasticidade do cérebro; as complexidades de uma época sem controle. Enquanto afirma que Estesícoro (poeta grego arcaico, c. 630 - 555 a.C) abriu a palavra grega de seus trincos e adjetivações herdadas da tradição homérica, Anne Carson parece tomar para si a mesma tarefa de emancipação no que se refere a sua Gerioneida-boyhood (Autobiografia do Vermelho). Carson, como Estesícoro, liberta a criança da santidade; tinge as paredes e margens da fotografia e do ato de crescer com o mesmo tom de vermelho do mar grego. A cor da vergonha. Em seu modo de recontar o reconto, o sono dos justos é como mel. O ar lá fora é rosa escuro. A figura mitológica de Gerião (ou Gerion), previamente “destrincada” pelos fragmentos que temos de Estesícoro, assim como seu confronto com Hércules, ganham mais do que adjetivos ou acréscimos contemporaneizantes; são o motor de uma autodescoberta.
Sua odisseia pelos Estados Unidos e pela memória na peregrinação dos vulcões — a infância não é também a fase das erupções? — parece voltaica; a eletricidade do estado das mudanças encapsulado em um fotograma do sensível. Neste quesito, Lygia Fagundes Telles faz algo parecido, tateando o trauma da desconstrução de um ídolo em seu conto, O Menino, último de Antes do Baile Verde, e através de sua Virgínia em Ciranda de Pedra. O mundo dos adultos é irracional, ferido por questões folhetinescas e dramáticas que relegam o espaço da infância ao de sombra. Veja, parece dizer a mãe no conto de Lygia, eu também sei brincar. O queixo enrugado pelas lágrimas, a incapacidade de explicar ao pai o mistério indômito da sexualidade humana. Um episódio de revelação.
No mesmo conto, a experiência do cinema através das páginas metamorfoseaia-se em uma cena atônita; a montagem que Lygia constrói entre o que se passa na tela e o que se passa com as mãos, até o ponto em que as carícias para o amante — lado a lado com tiroteios e imagens de tortura em cinemascope — retornam à criança. A interrupção precoce do estágio de latência; a ponte em carne-viva até um estado fantasmagórico. Uma espécie de purgatório em construção: o céu da infância e do momento fílmico eclipsado pelas Grandes Questões Reais, pela perversão da mão e pela constante reinterpretação e ressignificação do mundo e da sexualidade. O chocolate nas mãos da criança, que tem seu dulçor transformado em amargura quando ela percebe, enfim, que o filme na tela — e, posteriormente, o próprio cenário em que se está — compõe uma fita de amor. O crescer veloz e vertiginosamente trespassado pelo inferno irracional do mundo adulto; pela traição, mais do que pela tortura. Pela insinuação. São alguns dos eventos e fixações que tornam O Menino de Lygia para sempre um menino, de algum modo.
Com a brecha da fita de amor, retornamos à questão cinematográfica com mais uma consideração: em Notes on a Dreampolitik, Didion afirma que todo filme de motocicleta é, de certo modo, idêntico, e uso disso para afirmar que assim parecem ser também alguns filmes sobre crescer (ou, justamente, sobre o não-crescer). Dentre tantos, Meu Primeiro Amor (1991), No Mundo da Lua (2001) e Ponte para Terabítia (2007) compõem o tríptico sessão-da-tardenesco da eterna infância; são primordialmente deles de que me lembro quando penso em “filmes para chorar”. Não quero tornar ridículos nenhum desses filmes — principalmente em um cenário em que um so-called pretensiosismo cinéfilo é reconhecido como a maior ameaça desde a bomba atômica — mas analisemos a operação que sucedem dos modos da infância: histórias de amor antes do pecado; memórias da doce e saudosa lembrança, do que resta ao olhar para o passado como uma versão liofilizada do agora.
O que acontece quando o Cupido se cansa de brincar com águias e decide acertar as flechas de um amor de verão no frontispício de seus pardais? A clássica declaração pueril — implícita ou explícita — do serei eternamente seu/sua ganha contornos sádicos quando a primeira metade do filme dá lugar a segunda, que normalmente carrega com ela a impossibilidade de realização do amor, simbolizada pela morte brutal de uma das crianças envolvidas. É uma tendência perceptível, e um sintoma narrativo e humano frequente, conservá-las em afrescos e preservá-las em juvenílias inacabadas como uma vitória sobre o comportamento de desvio e da chegada da puberdade. A criança se apaixona pelo objeto, os adultos riem de sua jeunesse, de sua escolha. Aventuras se seguem, no mesmo lugar em que um “pseudo-amor” – sublimado pela fantasia – toma forma e ligeiramente se inclina para a curva mortal. Em seguida, o mundo mágico ou o romance é decapitado diante do espectador, sem mais delongas. Testemunhamos, também aqui, essa ruptura entre fantasia e “real”, um parcial esquema de desvelamento trágico. Mas como pensar em uma revelação quando a fantasia opera na própria forma?
Ao fim de um hipotético mês de maio e dos créditos, os sobreviventes se casarão com outros; conservarão na memória um amuleto do amor juvenil. Serão felizes, apesar de tudo, e pouco se sabe de uma possível nuvem sépia recobrindo o mundo ou da voz de Juliette Greco. Serão inocentes, fora dos parques e subúrbios do Vale dos Ossos, dos vulcões ou do pecado; longe da perversão. Em algum momento de Hollywood, matar criancinhas foi tão narrativamente vantajoso quanto matar golden retrievers em dramas românticos, e não digo isso baseado em qualquer convicção de que não se devem matar criancinhas ou cãezinhos em produtos ficcionais. Estamos falando de bilheteria, e estamos falando, propriamente, de uma fórmula bem-quista: o romance perfeito, nunca “perverso”, nunca “invertido”; a inalienável condição de inocência. Se crianças pecarem, mate-as com amor. Esses filmes fazem parte, é claro, de seus respectivos nichos, e é injusto exigir dos herdeiros do Código Haynes algo mais do que uma cartilha. No fim, contudo, não posso deixar de enxergá-los como uma versão à la Nárnia do Sex Kills.
Essas são algumas das histórias que contamos sobre nós mesmos. Nossa maneira de cobrir as manchas na parede que denunciam nosso crescimento. Sobrevivemos a 2010. Meninos de nome bíblico continuam a ser anunciados, mas pouco se sabe sobre seus milagres ou devotos. Talvez sonhem em se tornar rostinhos da América, endividados self-made coaches ou mães relapsas da nicotina; novos modelos. Talvez desejem assinar papéis de divórcio com Crayon ou Faber-Castell e evoluir a brincadeira de casinha para o ponto da repartição de bens. As coisas tendem a cair. Em certos tempos, mais velozes.
V - Previsões
Em 2036, pode ser que cada criança em cada parte do mundo esteja conectada às superfícies de satélites ou unindo as mãos em torno da parabólica. Anjinhos-azuis acenam nas telas e despertam o orgulho empoeirado da mamãe, como num texto de Paulo Mendes Campos.
Em 2065, Vale das Bonecas e Memórias de uma Beatnik serão paradidáticos ou cinzas, e pouco se conseguirá discernir entre o que são fragmentos da prosa de Golding e o que acontece em A Lagoa Azul.
Em 2084, Turma da Mônica estará para a cultura como a Jovem Guarda está para os fãs de MPB. Ziraldo terá reencarnado em uma jovem estudante chinesa de 1,65 metro de altura.
Em 2095, a presidente será uma Kardashian, e a Nova Zelândia derrubará a Primeira Criança Satélite de seu palanque com um míssil estampado com o rosto da Xuxa.
Em 2104, um reality show inspirado em Hotel Monterrey, de Chantal Akerman, e outro inspirado em Emperor Tomato Ketchup, de Terayama, estreiam internacionalmente. A palavra do ano será quetiapina. Nadsat, a língua oficial.
Em 2114, mais um adolescente é canonizado — dessa vez, de brim, sem chiffon ou jeans — e o culto prossegue. Quem sabe, até 2200, as profecias de Amuleto, do Bolaño, sejam mais animadoras que estas. O tempo dirá o quanto de leite colocamos nas pílulas. Por enquanto, sejamos adultos.
*Este texto foi escrito antes de 30 de janeiro, quando novos arquivos e e-mails do Caso Epstein foram liberados pelo Departamento de Estado dos EUA. A ausência de menções ao caso decorrem deste fato.
_edited.jpg)




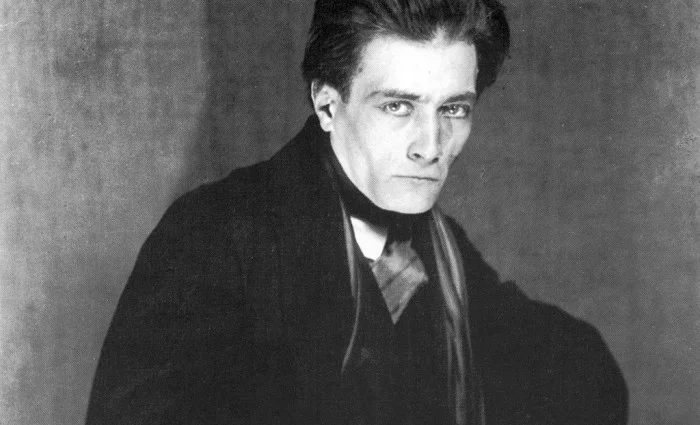
Comentários